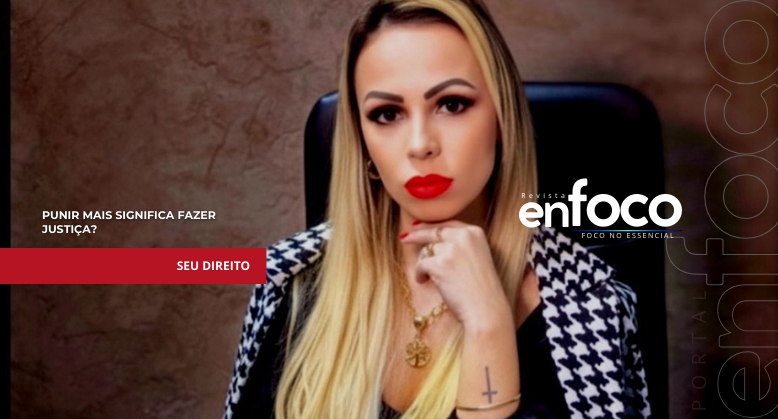O Conama aprovou algo que, à primeira vista, soa como um divisor de águas: uma resolução inédita que insere justiça climática e combate ao racismo ambiental como diretrizes formais das políticas ambientais brasileiras. Um marco simbólico e jurídico, afinal, nunca antes o Estado reconheceu oficialmente que a crise climática não é neutra, que não recai com o mesmo peso sobre todos os corpos, territórios e culturas. A pergunta incômoda, no entanto, é inevitável: transformaremos isso em ação concreta, ou estaremos adicionando mais uma peça ao museu de boas intenções do país?
Chamemos as coisas pelo nome. O Brasil é um laboratório vivo do que se entende por injustiça climática: enchentes que derrubam casas nas periferias, queimadas que intoxicam aldeias indígenas, secas que matam lavouras familiares enquanto o agronegócio irrigado avança. O chão do país revela que a meteorologia não distingue raça, renda ou território mas as consequências, sim. Há décadas, populações negras, indígenas e periféricas pagam a conta por decisões econômicas e políticas que nunca as consultaram.
Por isso, a resolução do Conama não é trivial. Ao reconhecer oficialmente conceitos como “racismo ambiental” e ao exigir que políticas ambientais considerem a desigualdade climática, o Brasil finalmente nomeia um problema que sempre existiu, mas que era tratado como ruído ideológico. A norma aponta princípios fortes: dignidade humana, consulta prévia a povos tradicionais, não discriminação, combate a retrocessos socioambientais. Tudo certo no papel. O papel, aliás, é aonde o Brasil historicamente brilha.
Mas justiça climática não se faz em plenárias; se faz no território. E é aí que começam os incômodos. Como o país com maior histórico de desmatamento ilegal, conflitos fundiários e expulsão de populações tradicionais pretende operacionalizar esse compromisso? Quem fiscalizará governadores e prefeitos quando licenças forem emitidas ignorando os povos afetados? Como evitar que o conceito vire apenas uma nova narrativa elegante para velhas práticas coloniais de tomada de terra?
A resolução traz uma provocação urgente: ambientalismo sem olhar racial e social é ambientalismo elitista. Entretanto, assumir isso dentro do próprio Estado é reconhecer que o modelo de desenvolvimento defendido por governos, de todos os espectros, tem sido estruturalmente excludente. Será que estamos prontos para essa conversa? Ou transformaremos a resolução em adereço, útil apenas para discursos em conferências internacionais?
Há ainda outro ponto espinhoso: justiça climática implica priorizar investimentos e proteção territorial onde a desigualdade é maior. Ou seja, direcionar o orçamento para quem sempre foi deixado de lado. Isso exige coragem política; exige enfrentar os setores que lucram com a desigualdade ambiental. Será que veremos isso acontecer? Ou assistiremos, mais uma vez, à apropriação do termo por quem nunca sentiu o cheiro da fumaça de um incêndio florestal vindo da porta da casa de uma comunidade indígena?
A resolução do Conama é histórica, não porque resolve algo, mas porque escancara uma fronteira ética: continuar fingindo que crise climática é técnica, ou assumir que ela é também moral, racial e política. O texto está aprovado; agora resta o mais difícil: transformar diretrizes em obrigações reais, enfrentando interesses, desconfortos e narrativas hegemônicas. Se o Brasil quiser fazer jus a esse passo, terá que provar que não basta reconhecer desigualdades, é preciso enfrentá-las. E talvez este seja o verdadeiro teste da nossa maturidade ambiental: mostrar que justiça climática não é slogan, é reforma estrutural. E reforma estrutural não cabe em discursos, só cabe na prática.